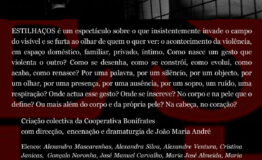Estilhaços é um espectáculo sobre o que insistentemente invade o campo do visível e se furta ao olhar de quem o quer ver: o acontecimento da violência, em espaço doméstico, familiar, privado, íntimo.
Como nasce um gesto que violenta o outro? Como se desenha, como se constrói, como evolui, como acaba, como renasce? Por uma palavra, por um silêncio, por um objecto, por um olhar, por uma presença, por uma ausência, por um sopro, um ruído, uma respiração? Onde actua esse gesto? Onde se inscreve? No corpo e na pele que o define? Ou mais além do corpo e da própria pele? Na cabeça, no coração?
A violência doméstica é um rasgão que estilhaça quem nela se vê envolvido e na sua prisão se vê acorrentado. Sem mordaças, nem amarras. Mas, ao mesmo tempo, com todas as mordaças e com todas as amarras que circulam no mundo. Na casa. No corpo.
Construímos este espectáculo trabalhando sobre a vida, como o arqueólogo trabalha sobre ruínas: escavando, limpando, olhando o que se furta ao olhar, dizendo o que escapa às palavras, declinando os casos de uma impossível morfologia, de uma gramática perdida no tempo, de memórias estilhaçadas em muitos percursos.
Construímos este espectáculo juntando corpos, palavras, sons, imagens, materiais, luzes e cores. À procura de um sentido que não tem sentido. Num labirinto feito de fragmentos, de becos sem saída, de dores sem cicatrizes e de cicatrizes já perdidas das dores em que se acendem.
Construímos este espectáculo trabalhando em círculos: como se a passagem de um círculo da violência para outro círculo da violência, da violência do homem sobre a mulher para a violência da mãe sobre o filho, da violência do filho sobre os pais para a violência da mulher sobre o homem, não fosse passagem mas a mera repetição do mesmo, a vertigem da imobilidade, a espera do desespero.
Construímos este espectáculo como quem avança do corpo para o interior do corpo. Que é ainda corpo. Que dói, como dói o corpo, na sua prisão, na prisão da casa, na prisão da pele, do grito parado, do gesto suspenso, do sonho quebrado.
Neste espectáculo, o teatro fica à porta: porque não há palco, mas apenas bastidores. Bastidores que se desdobram em inúmeras galerias de outros bastidores. Onde tudo se mistura longe dos projectores. Sombras de reflexos. Reflexos de sombras. Por detrás da primeira, da segunda e da terceira parede. Por detrás da quarta parede. Precisamente essa, que parece proteger o público e o deixa, afinal, também desprotegido.
Nunca antes o teatro foi, para nós, tão desafiadoramente teatro e tão impossivelmente teatro: dar a ver o invisível na sua invisibilidade. Esse invisível que é a dor da alma. Esse invisível que é a dor do interior do corpo. Esse invisível que é a dor do mundo.
João Maria André